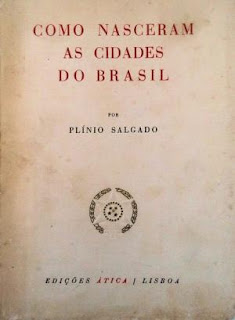Em
1939, Plínio Salgado, já então um notável e consagrado escritor, jornalista,
pensador, orador e doutrinador político, bem como criador e líder do maior
movimento cívico-político-cultural tradicionalista e nacionalista de toda a
América Lusíada e de toda a América Hispânica,[1] foi exilado para Portugal,
por razões políticas, pela ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas.
Diversamente
dos chamados exilados políticos das décadas de 1960 e 1970, todos eles
autoexilados, Plínio Salgado teve de deixar o Brasil por ordem de Vargas, que
lhe permitiu, porém, escolher para qual país seguiria. E então, como escreveu o
escritor e pensador tradicionalista português Fernando de Aguiar, Plínio
Salgado, esse “cavalheiro de nobres ideais e de igual nobreza de sentimentos,
forçado ao exílio, procurou Portugal”, escolhendo a Pátria de seus Maiores por
saber que nela estaria “em família” e melhor amparado “contra as violências dos
homens, nos seus desmandos, a afogarem em onda de sangue e de desvario o mundo,
este amarroado e à míngua do bom senso comum”.[2]
Ainda
como observou o autor de Gente de casa (Fernando
de Aguiar), Portugal, a “Terra de Santa Maria, título de nobreza à Pátria de D.
Afonso Henriques em suas virtudes ancestrais”, impõe-se para o retiro de Plínio
Salgado, “lugar apropositado para meditação e exaltação cristã”, e, posto que
animando a caseira lição da História e da Tradição, “por sentimento e por
sangue, também destino legítimo para repouso das canseiras do dia a dia e
aperfeiçoamento da alma nas lides políticas”.[3]
Uma
vez na pequena-grande Pátria de que nasceu a nossa Pátria, Plínio Salgado, que para
ela seguiu em companhia da esposa, D. Carmela Patti Salgado, conheceu-a de
norte a sul e nela estudou profundamente o pensamento tradicionalista português
e espanhol, proferiu algumas de suas mais belas e importantes conferências,
escreveu as suas mais pujantes obras religiosas e foi reconhecido por todos
como uma espécie de embaixador cultural do Brasil e pela intelectualidade
católica como um dos maiores pensadores católicos de todos os tempos e um
verdadeiro apóstolo brasileiro.[4]
Se, ao
momento de sua chegada a Portugal, era o nome de Plínio Salgado ali conhecido e
admirado por alguns intelectuais de escol, a exemplo do historiador e escritor
João Ameal e dos principais líderes do Integralismo Lusitano, “já então
admiradores declarados de sua inteligência máscula, conduzida na luminosidade
de Espírito cintilante e de esforçado engenho e servida na compreensão de sadia
e arejada política”,[5] este, nos anos em que ali
viveu, pelos prodígios de seu verbo falado e escrito, tornou-se célebre em toda
a Nação Portuguesa. E, como aduziu Fernando de Aguiar, Plínio Salgado,
“abençoado por Portugal como filho adoptivo”, foi
aquele
brasileiro que, melhor compreendendo as nossas gentes, mais ilustrou o
intercâmbio entre as duas Pátrias de língua portuguesa, quem mais rente, e pelo
coração, soube segurar, prender e unir, em nossos dias, os nós sagrados que
para sempre hão-de vincular, no futuro, o Brasil a Portugal e Portugal ao
Brasil.[6]
Durante
o discurso de agradecimento à homenagem a ele prestada por um grupo de ilustres
portugueses[7]
antes de seu retorno ao Brasil, em junho de 1946, Plínio Salgado afirmou que,
ao partir do Rio de Janeiro, em 1939, vira a bandeira nacional brasileira a
flutuar triunfalmente na Fortaleza de Santa Cruz e que sentira que a auriverde
bandeira parecia dizer-lhe:
Vai,
porque do outro lado do oceano encontrarás a Pátria da tua Pátria e ali, junto
aos monumentos antigos e aos túmulos dos heróis da Raça, adquirirás novas
forças de tradicionalidade com que volverás mais rico de seiva nacional, mais
vibrante de brasilidade, mais ardente de amor pelo teu Brasil.[8]
Não é
necessário dizer que de fato Plínio Salgado adquiriu, em terras portuguesas,
novas forças da mais lídima tradicionalidade, com que volveu à Terra de Santa
Cruz mais rico de seiva nacional, mais vibrante de Brasilidade e mais ardente
de amor pelo Império natal.
Foi em
Portugal que o renomado autor de O
estrangeiro (Plínio Salgado) concluiu e deu ao Mundo a sua obra-prima, a Vida de Jesus, que o Padre Leonel Franca
bem qualificou de “joia de uma literatura.”[9] E dissemos, como Tasso da
Silveira, que Plínio Salgado deu ao Mundo a sua Vida de Jesus em razão de que, como salientou o ilustre poeta e
ensaísta curitibano (Tasso da Silveira), a Vida
de Jesus é uma “obra de significação universal, dado o esplendor com que o
tema supremo foi nela realizado”, e é, ainda, uma obra que já alcançou diversas
edições em diversos países e diversos idiomas e sobre a qual prestigiosas
autoridades, como o mencionado Padre Leonel Franca e D. Manuel Gonçalves
Cerejeira, Cardeal-Patriarca de Lisboa, “disseram coisas definitivas e
consagradoras”.[10]
Como ressaltamos algures,[11] por suas obras
religiosas, a exemplo da Vida de Jesus, “coroa luminosa de um
grande e silencioso drama”, no dizer do Cardeal Cerejeira,[12] assim como de A aliança do sim e do não, de Primeiro, Cristo!, de O Rei dos reis, de A Tua
Cruz, Senhor, de Mensagens ao Mundo
Lusíada, de A imagem daquela noite
e de São Judas Tadeu e São Simão Cananita,
bem podemos considerar Plínio Salgado um dos maiores e mais profundos escritores
cristãos de todos os tempos e uma das máximas glórias do pensamento e das
letras cristãs do Mundo Lusíada.
Tratando da Vida
de Jesus, afirmou Fernando de Aguiar ser esta obra “o livro mais fortemente
lusíada deste atormentado século”,[13] e se é verdade que, como
salientou o Padre Moreira das Neves, tal obra teve um êxito extraordinário,
talvez só ultrapassado, em sua expansão mundial, pela História de Cristo, de Papini,[14] é igualmente verdade que, como enfatizou José Sebastião da Silva
Dias, tal obra, que realmente conseguiu ser a “joia de uma literatura”, teria
por mercado o Mundo inteiro, caso houvesse sido escrito em qualquer das grandes
línguas europeias.[15]
Consoante escreveu o
sacerdote jesuíta, pensador e jornalista italiano Domenico Mondrone, na introdução à primeira edição
italiana da Vida de Jesus, transcrita
na revista romana La Civiltà Cattolica,
não apenas as obras religiosas de Plínio Salgado, mas todos os livros deste
“escritor robusto e fecundo” são testemunhos “do ideal cristão, ao qual está dirigida
toda a sua vida de indivíduo e de cidadão e no qual se enquadra a sua visão do
mundo”.[16] A propósito, como bem frisou o
jus-filósofo tomista e pensador tradicionalista espanhol Francisco Elías de
Tejada, desde a sua conversão intelectual à Fé Católica, em 1918, o que Plínio
Salgado levantou foram duas solidíssimas colunas: Cristo e o Brasil.[17]
Neste mesmo sentido, ao analisar
as obras Como nasceram as cidades do
Brasil e A imagem daquela noite,
João Ameal assim escreveu a respeito do autor da Vida de Jesus:
Plínio
Salgado escreve, fala, apostoliza sob a luz perene da obediência a Cristo; os
argumentos que emprega, são colhidos nas divinas palavras; as imagens que
levanta, são sugeridas pelas divinas lições, os apelos que lança, são o eco dos
divinos apelos e todo o seu programa é reimplantar na consciência dos
contemporâneos a figura excelsa do Filho de Deus e incitá-los a que O tomem por
modelo e saibam voltar ao integral cumprimento da Sua Lei.[18]
É sobre a obra Como nasceram as cidades do Brasil que hoje falaremos. Escrita em
Portugal e publicada em 1946, pela Editorial Ática, de Lisboa, tal obra se
destinava, antes de tudo, a mostrar aos brasileiros e aos portugueses, que tão
generosamente acolheram o seu autor, a fisionomia de sua terra natal, por meio
de páginas que, como enfatizou Gumercindo Rocha Dorea, o tempo não foi ou será
capaz de destruir e que demonstram como pode o amor edificar para a eternidade.[19]
A
Editorial Ática pertencia ao poeta Luís de Montalvor (nome literário de Luís
Filipe de Saldanha da Gama da Silva Ramos), que a fundara em 1933, e, profundo
admirador do pensamento e da obra de Plínio Salgado, já editara a sua Vida de Jesus e A Tua Cruz, Senhor, e publicaria, naquele mesmo ano de 1946, a obra
Madrugada do Espírito. Luís de
Montalvor, que fundara, em Lisboa, em janeiro daquele ano de 1946, a Livraria
Ática, e que faleceria no ano seguinte, com a esposa e o único filho, num
desastre automobilístico, iniciara, em 1942, a publicação de diversas obras de
Fernando Pessoa e seus heterônimos, sob o título de Obras Completas de Fernando Pessoa, e publicaria, ainda no ano de 1946, as Poesias de Mário de Sá-Carneiro. A propósito, tanto Fernando Pessoa
quanto Mário de Sá-Carneiro tinham sido seus companheiros na revista Orpheu, que circulara em 1915 e tivera
em Montalvor seu principal idealizador e o seu primeiro diretor, ao lado do poeta
e escritor brasileiro Ronald de Carvalho, logo passando, porém, a ter um papel
secundário na organização desta revista, marco inicial do Modernismo em
Portugal, e sendo substituído em sua direção, juntamente com Ronald de
Carvalho, por Pessoa e Sá-Carneiro, no segundo número da mencionada revista,
cujo terceiro número, organizado em 1917, somente viria à luz em 1984. Por fim,
vale lembrar que fora Montalvor quem proferira o elogio fúnebre de Fernando
Pessoa por ocasião do sepultamento do corpo deste, em 2 de dezembro de 1935.
Obra
estuante de Fé e de Brasilidade, iniciada, segundo o autor, num dia em que
transbordava o seu “afeto pelo Brasil e os Brasileiros”, afeto este que o levou
a contar, “na terra dos nossos Maiores”, a história das cidades brasileiras,[20] Como nasceram as cidades do Brasil traz a seguinte dedicatória:
À
Nação Portuguesa, em homenagem aos antepassados comuns que construíram a minha
Pátria, deram-lhe uma nobre língua e uma gloriosa tradição e animaram-na, por
todo o sempre, com a alma religiosa que a integra na família lusíada das cinco
partes do mundo e na comunhão universal do Cristianismo ofereço este livro como
recordação de minha permanência na sua linda terra e no meio da sua
hospitaleira e carinhosa gente.[21]
Em
artigo a respeito de Como nasceram as
cidades do Brasil, publicado no jornal Idade
Nova, do Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 1946, Tasso da Silveira
ponderou que a leitura de tal obra era urgentíssima entre nós, sendo mister
dizer aos brasileiros que todos eles deviam ler este livro o quanto antes.[22]
Isto
porque, como aduziu o autor de Puro Canto
e de Gil Vicente e outros estudos
portugueses (Tasso da Silveira), estávamos então atravessando “uma crise de
enorme inconfiança nos destinos do Brasil”. Assim, segundo Tasso da Silveira, o
secreto desalento que, em seu sentir, lavrava em milhares de almas em nosso
País, nos roubava “a energia indispensável à luta viva” daquela hora. Os
brasileiros, no entender do poeta do Cântico
ao Cristo do Corcovado (Tasso da Silveira), precisavam reviver os motivos
que tinham para despertar o Brasil de seu sono e tais motivos são
“eficacissimamente evocados no volume de história autêntica e de autêntica
poesia” que é Como nasceram as cidades do
Brasil.[23]
Conscientes
de que o Brasil da hora presente atravessa uma crise de inconfiança em si mesmo
e em seu porvir de proporções muito maiores que aquela que atravessava em
meados da década de 1940, concordamos com Tasso da Silveira, quando este
observa que, nas páginas de Como nasceram
as cidades do Brasil, “oferece-nos Plínio Salgado o exato antídoto ao fundo
envenenamento de que somos vítimas”. Tal antídoto vem a ser a História de como
se formou o Brasil, a rememoração dos grandes feitos de que fomos capazes no
passado, dos tremendos óbices que vencemos, da resistência que, no pretérito,
soubemos opor às energias adversas, “e que demonstram, em nós, virtualidades de
grande povo”.[24]
Como sublinhou o autor de Tendências do
pensamento contemporâneo e de 30
espíritos-fontes (Tasso da Silveira):
Quem
sabe como o Brasil se formou não desanima do Brasil. Digam-no os nossos
genuínos historiadores. Digam-no os evocadores da epopeia bandeirante, da luta
com os holandeses, da conquista do Brasil às terríveis endemias. Estes, os que
sabem como o Brasil se formou, não se mostram pessimistas. São, pelo contrário,
os eternos animadores. Entre eles, Plínio Salgado, cuja obra é, toda ela, um só
arroubo de fé e confiança no Brasil.[25]
No ano
de 1977, ao prefaciar a quinta edição de Como
nasceram as cidades do Brasil, Euro Brandão ponderou que, naquele momento,
em que se reforçava a difusão da nossa Cultura e se proclamava a necessidade de
permanência da Índole Nacional, ou, noutros termos, da nossa Tradição, era
muito necessário o revigoramento de “nosso sentimento de brasilidade ao ler e
degustar e apreciar e meditar nas páginas de um escritor privilegiado” como
Plínio Salgado, numa obra em que se desdobra “o vigoroso sentimento nacional”.[26] Muito mais necessário,
porém, tornou-se hoje, para os brasileiros, o robustecimento desse sentimento
de Brasilidade, pela leitura e meditação das páginas transbordantes de poesia e
sentimento nacional desta preciosa obra.
Isto
posto, cumpre salientar que o “vigoroso sentimento nacional” de que nos falou
Euro Brandão corresponde ao “justo nacionalismo”, que, no dizer do Papa Pio XI,
“a reta ordem da caridade cristã não somente não desaprova, mas com regras próprias
santifica e vivifica”,[27] nada tendo que ver com o
condenável nacionalismo agressivo e xenófobo, como ressaltou o próprio Euro
Brandão.[28]
Como aduziu o autor de O século da
máquina e a permanência do Homem (Euro
Brandão), este “vigoroso sentimento nacional” é
um
conhecer-se do Brasil a si mesmo. É um fortalecer-se na maneira de ser nacional
, no cultivo da feição própria de uma Nação com caráter peculiar, feição essa
que, se a diferencia, lhe dá também a possibilidade de contribuir com aspectos
originais no universal intercâmbio de ideais, soluções e atitudes. Cultivar sua
história, seus vultos seus feitos, fortalecendo a consciência de sua
peculiaridade como Nação, e, assim, atuar beneficamente no âmbito
internacional, é, como conceito, tão importante como a pessoa que cultiva as
virtudes de sua personalidade e as reforça, não para sua própria exaltação, mas
para ser mais útil no exercício do bem comum.[29]
Como
bem sublinhou Euro Brandão, nas páginas de Como
nasceram as cidades do Brasil, “em pinceladas de verdadeiro artista”, se
desdobram não apenas as histórias da fundação de cidades, do século XVI ao
século XX, “mas um vitral de flagrantes motivadores, que, na ênfase e reforço
dos contornos, faz rutilar a beleza das epopeias”.[30]
Assim,
esta obra, que, no dizer de Brandão, é um “livro de Patriotismo e de Fé”,[31] que nos “ensina a amar o
Brasil”[32] e “nos reacende o amor à
cousas que realmente ‘valem a pena quando a alma não é pequena’”,[33] aborda, em páginas que
muitas vezes fundem História, Tradição e Poesia, temas como a Epopeia das
Bandeiras, a obra missionária e educativa dos jesuítas e o papel que tiveram e
têm, em nossa História e em nossa Tradição, vultos como aqueles de João Ramalho,
Tibiriçá, Anchieta, Caramuru, Raposo Tavares, Anhanguera e Aleijadinho.
Diferentemente
de tantos pseudo-historiadores, que só sabem amesquinhar as nossas origens e
denegrir a imagem da Nação Portuguesa, de que proviemos, Plínio Salgado, em Como nasceram as cidades do Brasil, faz
justiça a Portugal e à sua obra civilizadora e enaltece o gênio imperial
lusíada, graças ao qual o Brasil tem mantido, ao longo dos séculos, a sua
unidade, e salienta que o maior patrimônio que Portugal legou ao Brasil foi a
verdadeira Religião de Cristo.
Isto
posto, reputamos ser oportuno frisar que, como fez ver o autor de Como nasceram as cidades do Brasil, este
vasto Império que é a nossa Terra de Santa Cruz possui grandes e profundas
diferenças regionais, assim como membros e descendentes de diversos povos de
todo o Orbe Terrestre, mas todas essas diferenciações se submetem “à ação
poderosa de um formidável redutor, a trabalhar continuamente, como estatuário
inspirado, na construção maravilhosa da Unidade Nacional”. Tal redutor, nas
palavras de Plínio Salgado,
É o gênio lusíada. É o
espírito dos fundadores de um grande Império, cujo segredo se encontra nas
raízes romanas e cristãs de que provém.
Tão grande tradição,
pelos Brasileiros herdada dos Portugueses, constitui a força aglutinadora por
excelência, reagindo contra a diversidade do meio físico, a complexidade dos
aspectos étnicos e a extensão do espaço geográfico, e sustentando de pé, isento
de futuras decomposições, o caráter definido de um dos maiores povos do Mundo.[34]
Havendo
citado as linhas em que Plínio Salgado tratou do gênio lusíada, ressaltando o
fato de ser ele o pilar sobre o qual se assenta a unidade nacional brasílica,
citaremos, a seguir, as linhas finais de Como
nasceram as cidades do Brasil, em que o autor proclama que a Fé de Cristo
foi o maior patrimônio que o Brasil recebeu de Portugal e que sustentar o Nome
e os Ensinamentos de Cristo e viver segundo o Seu Espírito é sustentar a
Tradição Luso-Brasileira, o pundonor nacional e as próprias prerrogativas de
independência da Nação:
A partir de 1900 o Brasil cresceu
vertiginosamente. Os municípios, inicialmente criados com um centro urbano a
governar extensões territoriais por vezes maiores do que a Bélgica ou a Suíça,
partem-se, repartem-se, tripartem-se, pela transformação rápida das aldeias em
cidades; os pioneiros avançam, novos nomes surgem no mapa.
No primeiro período, a cidade começa com a fortaleza e a igreja; no segundo, o da mineração, com as barracas, a roça, a ermida; no terceiro, o do desenvolvimento agrícola e comercial, com o rancho de tropeiros, a venda e a capela; mas, ao desdobrar-se este último ciclo, ao ritmo acelerado do progresso, a cidade começa com a bomba de gasolina, a agência bancária, o campo de futebol, o cinema e a igreja. Logo depois, apita a locomotiva na estação, traça-se o jardim da praça municipal, alindam-se os bangalôs residenciais.
Reparai, porém, numa constante: sob a forma de ermida, capela, ou igreja, de taipa, de pedra, de cimento armado, barrocas, românticas, góticas, modernas, a presença em toda carta geográfica da religião de Cristo.
Foi o maior patrimônio que o Brasil recebeu de Portugal.
*
No espaço de oito milhões e meio de quilômetros quadrados, as cidades brasileiras, por mais diversas que pareçam nos seus aspectos regionais, guardam no íntimo uma só fisionomia, falando, cantando e rezando na mesma língua, “última flor do Latio”, primeira flor da lusitanidade, da latinidade, na América.
Mas nem a identidade dos costumes, nem a uniformidade do teor de vida, nem o condomínio da terra nos dariam a nós, Brasileiros, uma consciência de origem e um sentido de destino histórico nacional e humano, como nos dá esta Fé em Cristo, que constitui o supremo instrumento de expressão da nossa alma de Povo.
Em cada cidade do Brasil canta o sino de uma igreja; em cada igreja está presente Aquele que penetrou a floresta na palavra dos missionários das brenhas selváticas; e, estando em cada igreja, está em cada um dos lares da Pátria, assim como no íntimo de todos os corações.
Sustentar o Seu Nome, e o Seu Ensino, e viver segundo o Seu Espírito, é sustentar a tradição lusíada e nacional brasileira, a honra da Nação e as suas próprias prerrogativas de soberania.[35]
No primeiro período, a cidade começa com a fortaleza e a igreja; no segundo, o da mineração, com as barracas, a roça, a ermida; no terceiro, o do desenvolvimento agrícola e comercial, com o rancho de tropeiros, a venda e a capela; mas, ao desdobrar-se este último ciclo, ao ritmo acelerado do progresso, a cidade começa com a bomba de gasolina, a agência bancária, o campo de futebol, o cinema e a igreja. Logo depois, apita a locomotiva na estação, traça-se o jardim da praça municipal, alindam-se os bangalôs residenciais.
Reparai, porém, numa constante: sob a forma de ermida, capela, ou igreja, de taipa, de pedra, de cimento armado, barrocas, românticas, góticas, modernas, a presença em toda carta geográfica da religião de Cristo.
Foi o maior patrimônio que o Brasil recebeu de Portugal.
*
No espaço de oito milhões e meio de quilômetros quadrados, as cidades brasileiras, por mais diversas que pareçam nos seus aspectos regionais, guardam no íntimo uma só fisionomia, falando, cantando e rezando na mesma língua, “última flor do Latio”, primeira flor da lusitanidade, da latinidade, na América.
Mas nem a identidade dos costumes, nem a uniformidade do teor de vida, nem o condomínio da terra nos dariam a nós, Brasileiros, uma consciência de origem e um sentido de destino histórico nacional e humano, como nos dá esta Fé em Cristo, que constitui o supremo instrumento de expressão da nossa alma de Povo.
Em cada cidade do Brasil canta o sino de uma igreja; em cada igreja está presente Aquele que penetrou a floresta na palavra dos missionários das brenhas selváticas; e, estando em cada igreja, está em cada um dos lares da Pátria, assim como no íntimo de todos os corações.
Sustentar o Seu Nome, e o Seu Ensino, e viver segundo o Seu Espírito, é sustentar a tradição lusíada e nacional brasileira, a honra da Nação e as suas próprias prerrogativas de soberania.[35]
Faz-se mister evocar o fato de que Plínio Salgado,
que sempre condenou e combateu todas as formas de racismo, louvou, em Como nasceram as cidades do Brasil, a
“nobre confraternidade cristã dos lusitanos com os povos do vasto império” que
edificaram e o “matrimônio das raças”, ocorrido no Brasil sob esse espírito de
confraternidade cristã,[36]
observando que Iracema, lenda da
fundação do Ceará, criada por José de Alencar, vem a ser uma “delicadíssima
página” dessa nobre confraternidade, essencialmente cristã e lusíada.[37]
Como
escreveu Plínio Salgado, Iracema,
magno poema em prosa, “obra-prima de José de Alencar, escrita em linguagem
ritmada e exuberante de imagens, exprime o simbolismo da formação étnica e
social brasileira”. Por meio do cruzamento, a estirpe autóctone despareceu,
permanecendo, porém, vivas as suas denominações geográficas e as palavras
designativas das árvores, das aves, dos frutos e das flores. Em verdade, porém,
em última análise, Iracema não morreu, pois “continua a viver no sangue do
filho, condicionada à cultura, à fé religiosa, ao espírito lusitano”, como sua
estirpe continua a viver no sangue do povo brasileiro, igualmente condicionada
à cultura, à fé religiosa e ao espírito lusitano. É por isso, talvez, que
Iracema é um anagrama de América.[38]
Iracema
é, enfim, segundo Plínio Salgado, o próprio Novo Mundo, a “terra virgem que o
Europeu devia desbravar”, enquanto seu filho, Moacir, “é o fruto de dois mundos
que se amaram e agora vivem juntos no mesmo ser”, é o “símbolo da Pátria
futura”, é “a profecia do grande Brasil”.[39]
Ao
tratar dos bandeirantes da Vila de São Paulo do Campo de Piratininga, em
páginas que fundem admiravelmente História, Tradição e Poesia, Plínio Salgado
os comparou a águias, afirmando ser a humilde porém altiva e heroica Vila de
São Paulo dos primeiros séculos da nossa História um “ninho de águias que
devassaram todo o sertão, acometeram o mistério das florestas, dilataram o
território da Pátria, fixaram os limites da Grande Nação Brasileira”.[40]
Como
fez salientar Plínio Salgado, as bandeiras partidas da Vila de São Paulo do
Campo de Piratininga fundaram diversas vilas e povoações que depois se tornaram
cidades pelos sertões desta Terra de Santa Cruz/Brasil e também povoaram vilas
já existentes,[41]
tendo sido, pois, autênticos “plantadores de cidades”.[42]
Ainda
como fez ressaltar o autor de A voz do
Oeste (Plínio Salgado), as Bandeiras estabeleceram diversas estradas
ligando o Brasil de Sul a Norte, exploraram os cursos dos nossos rios,
transpuseram todas as serras, romperam com o Tratado de Tordesilhas, de acordo
com o qual o Brasil não passaria de uma nesga de Terra à beira do Atlântico.
Dilataram, enfim, “os horizontes da Pátria”, não se limitando à descoberta e
exploração de ouro e pedras preciosas e tendo continuado “em terra a prodigiosa
aventura dos navegantes de Sagres” e lançado “os alicerces da unidade nacional
e da grandeza do Brasil”.[43]
Isto
posto, cumpre sublinhar que Plínio Salgado, que era um profundo conhecedor da
História Paulista e Brasileira, já no dealbar da década de 1920, nas páginas do
prestigioso jornal Correio Paulistano,
de que era redator, comparava a epopeia luso-brasileira das Bandeiras à
anterior epopeia dos navegantes de Portugal, referindo-se aos bandeirantes como
“argonautas divinos da nossa grande Epopeia”,[44] numa alusão aos heroicos
nautas e guerreiros da Mitologia Helênica. E é mister assinalar, ainda, que, em
1934, publicou Plínio Salgado o há pouco mencionado romance A voz do Oeste, magnífico poema em prosa
sobre a epopeia bandeirante, que inspirou Juscelino Kubitschek a edificar
Brasília[45]
e que, enquanto romance sobre a epopeia das Bandeiras Paulistas, só pode ser
comparado à obra A Muralha, de Dinah
Silveira de Queiroz, e, enquanto poema sobre a mesma epopeia, pode ser apenas
comparado a O caçador de esmeraldas,
de Olavo Bilac, a Os bandeirantes, de
Baptista Cepelos, a Armorial, de
Paulo Bomfim, e aos versos dedicados ao tema por Gerardo Mello Mourão, em Invenção do mar.
Não
podemos encerrar a presente conferência sobre a obra Como nasceram as cidades do Brasil sem antes destacar o fato de que
Plínio Salgado foi um ardoroso defensor do Municipalismo desde a mocidade,
quando fundou, com Gama Rodrigues, o Partido Municipalista, sendo o
Municipalismo, em verdade, pedra angular da sólida e profunda Doutrina política
de Plínio Salgado,[46] Doutrina esta que,
conforme observou Heraldo Barbuy, é necessária por firmar os autênticos
conceitos do Homem, da Sociedade e do Estado,[47] e que se constitui, antes
de tudo, como aduziu Francisco Elías de Tejada, numa “teoria da Tradição
brasileira com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões para
quem queira em tempos vindouros conhecer a substância do Brasil”.[48]
Fechamos
esta singela conferência assinalando que Plínio Salgado, este “descobridor
bandeirante das essências de sua pátria”, na expressão de Francisco Elías de
Tejada,[49] e “Bandeirante da Fé e do
Império”, como escrevemos alhures,[50] deu e dá à Cultura
Brasileira, na grande obra que é Como
nasceram as cidades do Brasil, um admirável “roteiro”, por meio do qual
muitos poderão descobrir a História e a Tradição da nossa Terra de Santa Cruz.
Por
Cristo e pela Nação!
Victor
Emanuel Vilela Barbuy,
Presidente
Nacional da Frente Integralista Brasileira,
São
Paulo, 25 de abril de 2017-LXXXIV.
* Versão revista e ampliada da comunicação
apresentada a 25 de abril de 2017 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), durante a XI Semana de
Filologia na USP.
[1] Tal movimento foi e é o Integralismo, que
se constituiu no primeiro “movimento de massas” da História do Brasil e formou
o primeiro partido verdadeiramente nacional desde o ocaso do Império, bem como,
na expressão de Gerardo Mello Mourão, o “mais fascinante grupo da inteligência
do País” (Entrevista concedida ao Diário do Nordeste, de Fortaleza,
em 24 de outubro de 1996. Disponível em:
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=414001. Acesso em 25 de
abril de 2017).
[3] Idem, loc. cit.
[4] Sobre as atividades realizadas por Plínio
Salgado durante o exílio em Portugal, bem como sobre o reconhecimento que ali
recebeu dos mais altos vultos do pensamento católico lusitano: Augusta Garcia
R. DOREA, Plínio Salgado, um apóstolo
brasileiro em terras de Portugal e Espanha, São Paulo, Edições GRD, 1999.
[6] Idem, pp. 111-112.
[7] Dentre
tais ilustres portugueses podemos destacar as figuras de Hipólito Raposo, de
Pequito Rebelo, do Conde de Monsaraz, do Visconde de Santarém, de Domingos
Megre e de Leão Ramos Ascensão, todos destacados vultos do Integralismo
Lusitano, movimento que reuniu, no dizer de Plínio Salgado, “a plêiade mais
brilhante dos pensadores políticos lusíadas dos últimos tempos” (O agradecimento, in Uma reportagem histórica, in
VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam”, vol.
II, São Paulo, Voz do Oeste/Casa de Plínio Salgado, 1986, p. 196. Texto
originalmente publicado no jornal A Voz,
de Lisboa, a 23 de junho de 1946).
[8] O agradecimento, in Uma reportagem histórica, in
VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam”, vol.
II, cit., pp. 197-198.
[9] Carta a Plínio Salgado, in Plínio SALGADO, Vida de Jesus, 22ª edição, São Paulo,
Voz do Oeste, 1985, pp. IX/XI.
[10] Um livro de Plínio Salgado, in Plínio
SALGADO, Como nasceram as cidades do
Brasil, 5ª edição, Prefácio de Euro Brandão, São Paulo/Brasília, Voz do
Oeste/Instituto Nacional do Livro, 1978, p. 192. Texto originalmente publicado
no jornal Idade Nova, do Rio de
Janeiro, no dia 27 de outubro de 1946.
[11] Plínio
Salgado. Disponível em: http://www.integralismo.org.br/?cont=781&ox=398#.WQx_xNIrLIU. Acesso em 25 de abril de 2017.
[12] A
Igreja e o pensamento contemporâneo, 4ª
edição (com algumas notas inéditas), Coimbra, Coimbra Editora, 1944, p. 385.
[14] Lembranças
de um amigo em Lisboa, in VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam", vol.
II, cit., p. 101.
[15] Vida
de Jesus, de Plínio Salgado, in VV.AA., Plínio
Salgado: “in memoriam”, vol. II, cit., pp. 146-147.
[16] Plínio
Salgado: o homem, a atividade, a obra-prima, in in VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam”, vol. II.
São Paulo, Voz do Oeste/Casa de Plínio Salgado, 1986, p. 159.
[17] Plínio
Salgado na Tradição do Brasil, in VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam”, vol. II, cit., p. 52.
[18] Plínio Salgado ou a nova luta por Cristo,
in VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam",
vol. II, São Paulo, Voz do Oeste/Casa de Plínio Salgado, 1986, p. 129.
[19] [Orelha do livro], in Plínio SALGADO, Como nasceram as cidades do Brasil, 5ª
edição, cit.
[20] Como
nasceram as cidades do Brasil, 5ª edição, cit., p. 9.
[21] Idem, página não numerada.
[22] Um
livro de Plínio Salgado, in Plínio SALGADO, Como nasceram as cidades do Brasil, 5ª edição, cit., p. 193.
[23] Idem, loc. cit.
[24] Idem, loc. cit.
[25] Idem, pp. 193-194.
[26] Prefácio, in Plínio SALGADO, Como nasceram
as cidades do Brasil, 5ª edição, cit., p. XI).
[27] Encíclica
Caritate Christi Compulsi. Disponível
(em latim) em: http://w2.vatican.va/content/pius-xi/la/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19320503_caritate-christi-compulsi.html.
Acesso em 25 de abril de 2017. A expressão “Nationem pietatis” foi traduzida
como “nacionalismo” em diferentes
versões da Encíclica, como a italiana que consta do portal oficial do Vaticano
(Disponível em: http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19320503_caritate-christi-compulsi.html.
Acesso em 25 de abril de 2017).
[28] Prefácio, in Plínio SALGADO, Como nasceram
as cidades do Brasil, 5ª edição, cit., loc. cit.
[29] Idem,
loc. cit.
[30] Idem, pp. XI-XII.
[31] Idem, p. XIII.
[32] Idem, p. XII.
[33] Idem, p. XIV.
[34] Como
nasceram as cidades do Brasil,
5ª edição, cit., p. 20.
[35] Idem,
pp. 163-165.
[36] Idem,
p. 55.
[37] Idem,
loc. cit.
[38] Idem, p. 56.
[39] Idem, loc. cit.
[40] Idem,
pp. 96-97.
[41] Idem, p. 99.
[42] Idem, p. 101.
[43] Idem, loc. cit.
[44] O novo bandeirismo, in Correio Paulistano, anno , nº 21493, São
Paulo, 11 de maio de 1923, p. 3.
[45] Cf. Juscelino KUBITSCHEK, Carta a Plínio
Salgado, in VV.AA., Plínio Salgado: “In
memoriam”, vol. I., São Paulo,
Voz do Oeste/Casa de Plínio Salgado, 1985, p. 223.
[46] Plínio SALGADO,
Carta a Sylvio Jaguaribe Ekman, in Pedro PAULO FILHO, Campos do Jordão, o presente passado a limpo. São José dos Campos,
Vertente, 1997, p. 70.
[47] Cf. A MARCHA, Plínio Salgado falou aos estudantes da Universidade Católica de São
Paulo, in A Marcha, ano I, n. 26, 14 de
agosto de 1953, p. 1.
[48] Plínio
Salgado na Tradição do Brasil,
in VV.AA., Plínio Salgado: “in memoriam”,
vol. II, cit., p. 53.
[49] Idem, p. 70.
[50] Plínio Salgado, Bandeirante da Fé e do
Império. Disponível em: http://www.integralismo.org.br/?cont=781&ox=71#.WQ-45sZv_IU.
Acesso em 25 de abril de 2017.